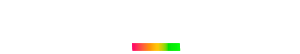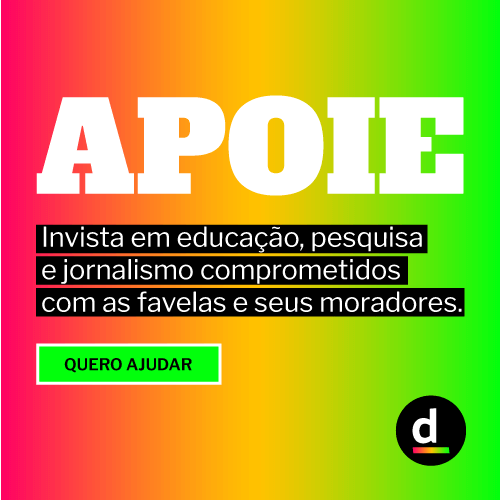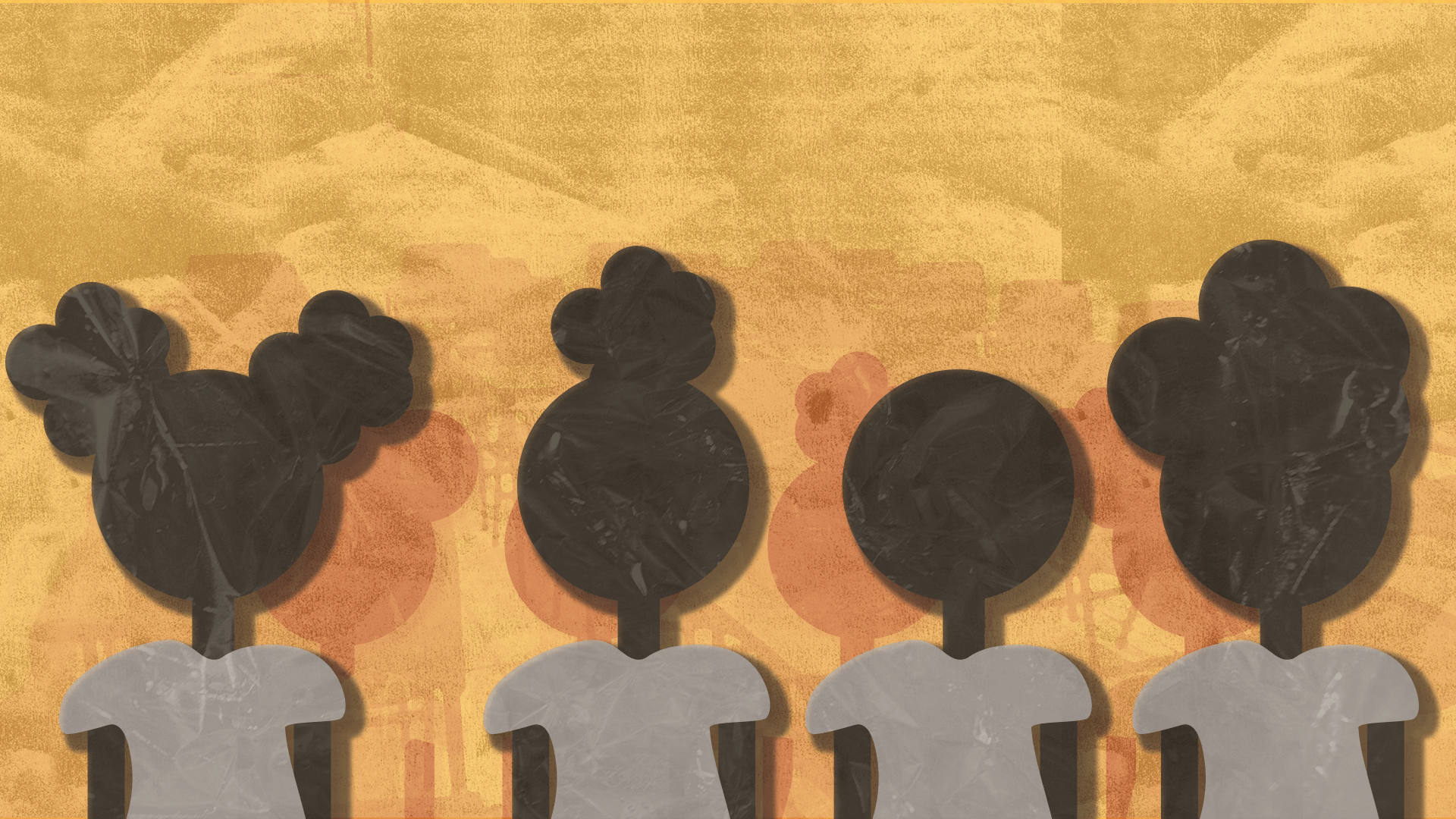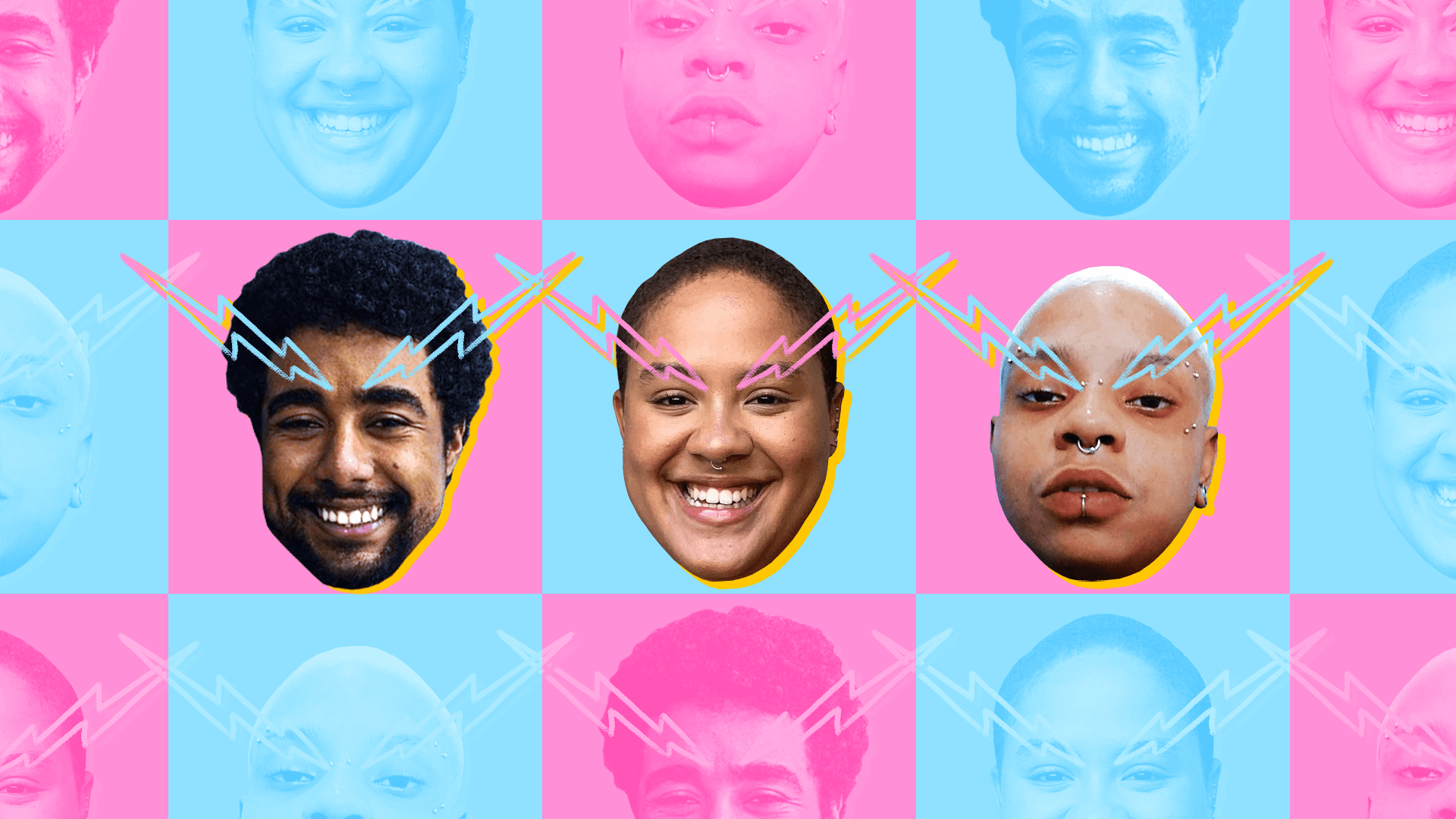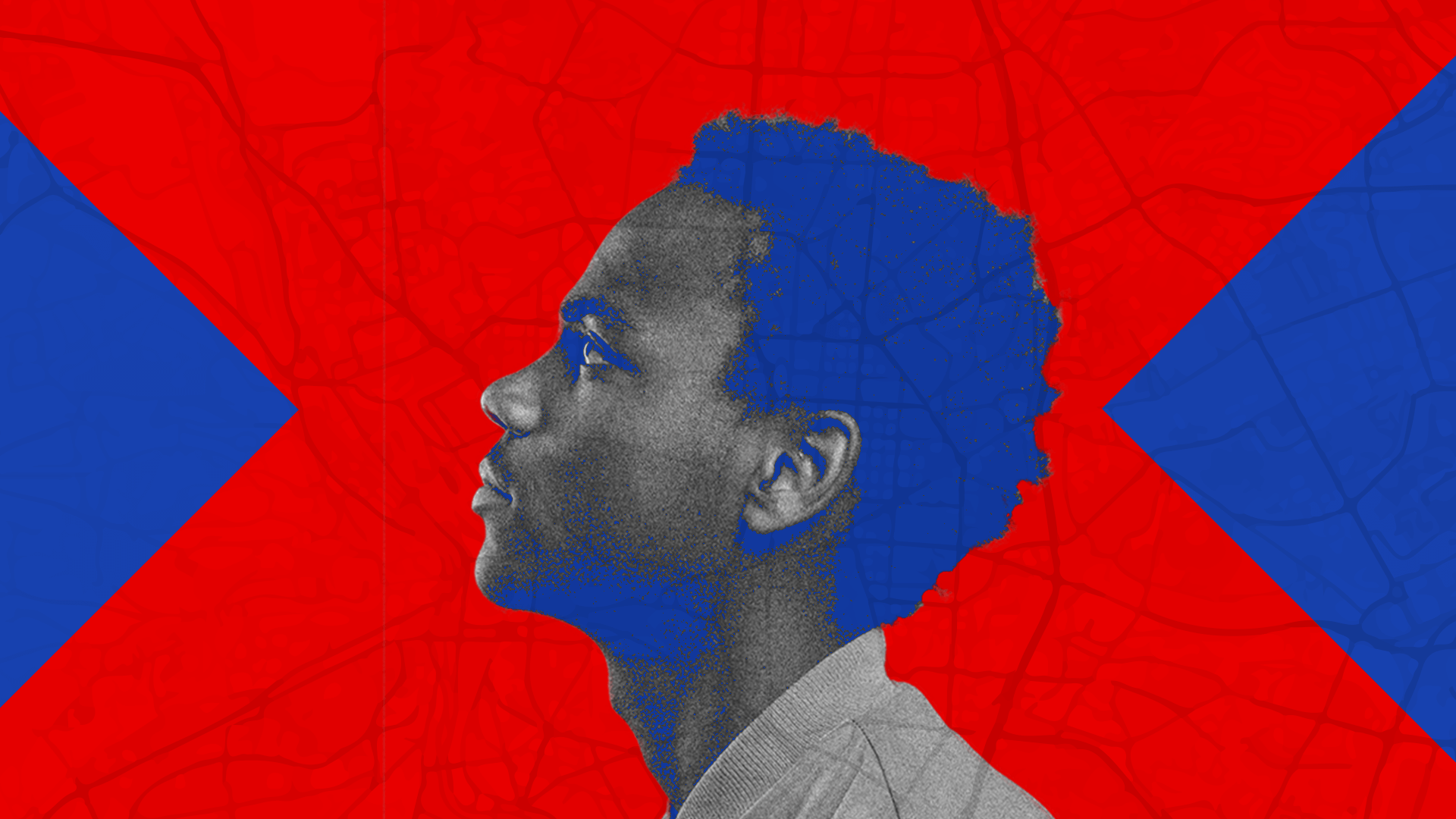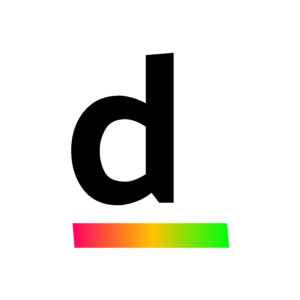reportagem
Anselmo Almeida
Pedro Lira
colaboração
Hannah de Vasconcellos
Juliana Marques
arte
Eloi Leones
Giulia Santos
Enquanto a cobertura midiática não debate HIV e escolas deixam de falar sobre sexo, o número de jovens infectados pelo vírus triplicou no país nos últimos anos. Sensível, social e repleto de desigualdades, viver com HIV no Brasil é um desafio que transcende o uso de antirretrovirais.
Roberta*, 26 anos, mulher cis, heterossexual, separada, mãe de uma menina e grávida do segundo filho. Foi na normalidade da rotina que recebeu o diagnóstico do HIV positivo. Roberta foi uma das 194.217 pessoas que contraíram o vírus no Brasil, de 2007 a 2017, segundo o último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. “Descobri devido a um descolamento de placenta, aos seis meses de gestação”, relembra. A preocupação inicial era a criança no útero, mas logo foi transferida para a primeira filha. “Meu maior medo era a minha filha de 4 aninhos. Os médicos disseram que havia a possibilidade dela possuir o vírus porque eu a amamentei. Entrei em desespero”.
Atualmente, Roberta faz parte do grupo de 54% de infectadas e infectados no país que possuem a carga viral suprimida, comumente chamados de indetectáveis, ou seja, não transmitem mais HIV. No entanto, ainda segundo o Boletim Epidemiológico, 392 mil pessoas são potenciais transmissores. “Minha primeira suspeita de infecção foi meu marido na época. Nos separamos porque acreditei que tinha sido traída e pegado o vírus dele. Foi desastroso”, conta. Por falta de informação, suspeitou também que havia sido infectada no posto de saúde, fazendo exames. “Muito tempo depois descobri que peguei de um ex-namorado. Assim que terminei esse relacionamento, comecei com meu ex-marido, de quem engravidei. Soube que era soropositiva quando recebi o diagnóstico, três anos depois de ser infectada”.
Apesar de veículos de comunicação e do debate social girarem em torno de homens homossexuais, a contadora, moradora de Brás da Pina, foge do estereótipo da infecção. Entre mulheres a partir dos 13 anos de idade que foram infectadas via sexual, o número de novos casos nos últimos 10 anos foi de 62.198. A idade também foge do convencional. O crescimento de infecções é maior em brasileiras com mais de 45 anos (2007, 16,4% / 2016, 24,9%).
Com relação à raça autodeclarada, entre os casos registrados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) no período de 2007 a 2017, 47,6% são entre pessoas brancas e 51,5% entre pretas e pardas. No sexo masculino, 49,6% dos casos estão entre brancos e 49,4% entre pretos e pardos; entre as mulheres, 43,2% dos casos são entre brancas e 55,9% entre pretas e pardas. Quanto ao número de óbitos causados pela Aids, a população negra – grupo que reúne pessoas pretas e pardas – é a mais afetada. Os óbitos notificados no ano de 2016 por raça e cor revelam 44,7% de pessoas pardas, 40,9% brancas e 14% entre pretas. Entre os anos de 2006 e 2016, verificou-se queda de 21,8% na proporção de óbitos de pessoas brancas, e crescimento de 35,5% na proporção de óbitos de pessoas pretas e pardas. Só entre as mulheres que contraíram o HIV na última década, 61% (6.113) são pretas ou pardas.

Foi a polêmica nota publicada pela Folha de S. Paulo em junho deste ano que reviveu o tema no debate popular. Segundo a publicação, um a cada quatro homens que fazem sexo com homens entre 15 e 29 anos, em São Paulo, é portador do vírus. Os dados não mentem. Em nove anos (2007-2016), a proporção entre homens e mulheres infectadas mais que duplicou. Para cada 10 mulheres que contraíram o vírus, 22 novos homens foram infectados. Entre eles, o crescimento da epidemia foi maior em jovens da faixa etária de 15-29 anos (2007, 34,1% / 2016, 46,8%).
Quanto à sexualidade, entre homens, a epidemia costumava ser maior na população heterossexual. Em 2007, 32% dos infectados eram homossexuais, 12,6% bissexuais para 47,7 heterossexuais. A situação se inverteu nos últimos anos: agora são 51% e 9,1% gays e bis, respectivamente, para 36,5% héteros.
Uma das lutas travadas contra a epidemia é a falta de informação acerca do vírus, seja por pessoas não infectadas ou entre a população vivendo com HIV/Aids. Fernando*, homem cis gay de 23 anos, estudante universitário, ressalta o problema. “Algumas pessoas positivas têm pensamentos de teoria da conspiração. Acreditam que, porque estão indetectáveis, estão curadas devido a palavras de alguns pastores. Ou acreditam que determinadas frutas e ervas podem curar o HIV”.
Fernando, que é morador de Santa Cruz da Serra, terceiro distrito de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi infectado na sua primeira relação sexual. “Descobri minha sorologia em agosto de 2012. Eu tinha 17 anos. Tive manifestações de verrugas de HPV. Meu namorado na época me levou até um centro de saúde no Centro do Rio para fazer exames de teste rápido para HIV e sífilis. Meu parceiro não era positivo e continuamos o namoro após o diagnóstico”, conta.
O medo do estigma e a forte carga emocional vinda do preconceito, muitas vezes se mostram problemas mais difíceis de superar do que o próprio tratamento médico. Fernando, que é indetectável e lida bem com sua sorologia, faz uso contínuo dos remédios e é adepto da terapia em grupo, “Hoje, depois de travar uma luta contra a depressão, eu não encontro muita dificuldade em relação à sorologia”, conta.

O autoestigma é uma das maiores problemáticas na luta contra o HIV. Segundo dados do relatório The People Living With HIV Stigma Index, que levantou em 2017, em sete países da região do Pacífico, dados sobre preconceito contra pessoas vivendo com HIV/Aids, um grande grupo cogita terminar a própria vida ao receber o diagnóstico. Cerca de 22% das pessoas entrevistadas cogitou suicídio nos últimos 12 meses. Participantes foram questionados se sentiram vergonha, culpa, pensamentos suicidas ou sensação de castigo. Os resultados mostram que mais de 70% se sentiram culpados, envergonhados e sem autoestima no último ano.
“A culpa não foi da minha mãe”
Apesar do aumento dos casos de HIV, um número tem diminuído de forma considerável: a taxa de notificações em menores de 5 anos. No ano de 2017, apenas 0,8% dos novos casos (46 notificações) foram de transmissões verticais – pessoas infectadas durante a gravidez (pela placenta), na hora do parto e ou na amamentação.
Este é o caso de Amanda*, 23 anos, mulher cis, heterossexual e pessoa vivendo com HIV por transmissão vertical. O vírus se tornou real em sua família com a morte do pai, em 2001, em decorrência de uma neurotoxoplasmose – doença oportunista comum em quem não tem adesão ao tratamento contra o HIV: “Acho que ele não sabia. Foi nesse momento em que minha mãe descobriu a minha sorologia e a dela”, explica.
Amanda só descobriu sua condição aos nove anos. “Minha mãe travava uma luta porque eu me recusava a tomar o remédio, que tinha um gosto horrível. Em uma dessas recusas eu perguntei pra ela porque meus irmãos não precisavam tomar o remédio e eu sim”, relembra. “Naquele momento eu nem liguei. O que uma criança de nove anos entende sobre isso?”. O entendimento e o peso do HIV só chegaram quando entrou na adolescência. “Foi aquilo: aceitar que eu não tive culpa e mesmo assim precisava encarar essa difícil realidade. Eu decidi escolher a vida!”, diz a estudante, moradora de Itaboraí.
Pra quem é positiva e positivo, a família pode ser um grande problema devido ao estigma e preconceito sobre o HIV, mas para Amanda, seus irmãos não vêem a sorologia como um tabu. “Nós nos damos muito bem. Eles nem lembram do HIV. São coisas da vida, eu sou positiva e eles não”, avalia.
Roberta, que abriu a matéria com seu relato, por pouco não tem uma história parecida com a da mãe de Amanda. Sua filha, que foi amamentada por uma mãe soropositiva, não foi infectada. “Meus filhos lidam bem com a minha sorologia. Contei pra mais velha quando ela tinha 13 anos. No início, ela se assustou, chorou. Tempos depois ela foi lidando de forma normal porque mostrei que eu era uma pessoa saudável e me cuidava. Mostrei a ela que é como ser hipertenso ou diabético”, explica. “Aos meus mais novos, com 10 e quatro anos, estou contando aos poucos. Eles sabem que tenho uma doença no sangue. Tem que ser aos poucos né?”, revela.

Seja para os filhos, para a mãe ou parceiros sexuais, revelar a sorologia é sempre um dilema para pessoas vivendo com HIV/Aids. No entanto, para quem é vertical, o drama se mostra um pouco diferente: “Uma das minhas grandes dificuldades em relação ao HIV também é revelar a sorologia. Eu sempre tento achar um bom momento, mas a reação do outro é imprevisível”, explica. Amanda admite que por ser vertical, a forma como as pessoas encaram o vírus, muda. “Culpam muito a minha mãe. Acho um saco quando vêm com esse papinho! Eu nunca a culpei, porque ela não sabia”, defende.
Apesar das dificuldades, a jovem acredita que sua condição não afeta sua vida sexual e social. “É claro que não sou de revelar minha sorologia a todo mundo. Mas quando revelo a um parceiro, eles lidam bem”. Mesmo indetectável, ressalta que sempre usa preservativos. “Camisinha para me proteger de outras doenças. E também porque estou muito nova pra ser mãe”, brinca.
Amanda ainda acrescenta que também vê o HIV como um fator positivo na sua vida: “Apesar de tudo, eu levo a vida bem com o vírus. Sei que é meio estranho o que vou dizer, mas o HIV fez de mim o que sou hoje. A sorologia me deu maturidade para lidar com as adversidades da vida”.
As várias camadas do preconceito
Entre os grupos mais afetados pelo HIV e a Aids está a população transexual. A transfobia institucional se mostra uma barreira difícil de ser quebrada na busca por controlar o vírus no grupo. Atualmente, o levantamento de quantas pessoas do grupo são contaminadas pelo vírus e morrem em decorrência da Aids é vago. O próprio Boletim Epidemiológico trata mulheres trans e travestis como homens que fazem sexo com homens.
Os dados sobre este público não entram no boletim, pois são levantados nos postos de testagem, não nos postos de saúde, onde a população recebe o tratamento antirretroviral e faz acompanhamento médico. Segundo Maria Eduarda, mulher trans presidenta da ONG Pela Vidda, os dados deveriam ser trabalhados de forma exclusiva para a criação de políticas públicas específicas. “A mulher deveria já ser identificada como trans no posto de saúde, entrar no boletim com números reais”, explica.
No recorte social, esta população é uma das mais vulneráveis devido ao estigma. “A população trans ainda tem muita vergonha. Se sente muito estigmatizada em assumir sorologia, mais do que qualquer outra pessoa. Porque elas já sofrem por serem transexuais, o HIV é mais um estigma a ser carregado. A vulnerabilidade social ainda acentua para que elas se escondam”, explica Eduarda.
Tratamento: muito além dos antirretrovirais
A luta contra o HIV é uma questão mundial, que abrange fatores que vão da prevenção ao tratamento correto do vírus. Uma das metas da Unaids – programa das Nações Unidas de combate à Aids, adotada pelo Ministério da Saúde em 2014, é a dos 90/90/90 – até 2020, 90% das pessoas com HIV no país estarão devidamente diagnosticadas; deste grupo, 90% realizando o tratamento com antirretrovirais; e, destes, 90% com carga viral indetectável. Até o final de 2017, 84% havia sido diagnosticado e, destas, 72% estavam em tratamento. Neste grupo, 91% atingiram supressão viral, segundo Boletim Epidemiológico. A meta da Unaids também prevê zero discriminação e novas infecções limitadas a 500 mil ao ano.

Sobre a adesão ao tratamento, o trabalho dos profissionais da saúde na atenção básica é um fator essencial para alcançar esses 90%. Segundo o médico pediatra da Rede Municipal de Saúde de São Paulo, Carué Contreiras, o preparo do profissional de saúde ainda é precário. “Médicos e enfermeiros em geral estão preparados para trabalhar com pessoas vivendo com HIV/Aids em termos técnicos, mas sem discussão sobre direitos humanos”, aponta. “Não entendem que o vírus é uma condição de saúde mas traz exclusão social, diferente da diabetes ou câncer, por exemplo. O HIV traz criminalização, perda de emprego, problemas em relações pessoais, etc. e o profissional não sabe lidar com isso”, revela Carué, que é uma pessoa vivendo com HIV.
Na extrema ponta do processo de garantir uma boa adesão ao tratamento de pessoas com o vírus, estão os agentes comunitários de saúde (ACS). Adriano Queiroz, que atua na região da grande Pavuna, periferia da zona norte carioca, revela que as e os profissionais não contam com preparo para tratar essa população. “Para atender esses pacientes vamos construindo as práticas no dia-a-dia. Nós não recebemos treinamento específico para lidar com pacientes vivendo com HIV/Aids”, diz.
Adriano ainda ressalta práticas fundamentais para lidar com o grupo, como a importância do sigilo. “Os agentes de saúde precisam da autorização da pessoa positiva para fazer o acompanhamento, porque muitos têm medo de terem suas sorologias reveladas, por se tratarem próximos de casa. Por isso algumas pessoas preferem não se tratar nos seus bairros”, explica.
Outra frente importante no processo de prevenção e cuidado é a própria comunidade civil, muitas vezes estruturada em Organizações Não Governamentais. Questões como direito ao sigilo médico e laboral (Art.168 da CLT), garantias de acesso ao tratamento (Lei nº 9.313 de 1996), direitos previdenciários para pessoas com Aids (Instrução Normativa INSS/PRES nº 45 de 2010) e criminalização da discriminação a pessoa vivendo com HIV/Aids (Lei n°12.984) são algumas políticas públicas garantidas e fiscalizadas pela sociedade civil.
Segundo Heliana Moura, assistente social no centro de testagem e aconselhamento (CTA) de Belo Horizonte, essas políticas estão instauradas, mas não em pleno funcionamento. “Temos políticas públicas bem consolidadas graças aos movimentos sociais, que foram reivindicando esses direitos. Atualmente é garantido assistência em consultas, exames e medicamentos via Sistema Único de Saúde (SUS)”, pontua.
Também representante política do Movimento Nacional das Cidadãs PositHIVas, Heliana aponta falhas. “Em alguns estados o tratamento foi descentralizado, ou seja, as pessoas vivendo com HIV/Aids passaram a ser atendidas em postos de saúde e não nos Serviços de Atenção Especializadas (SAEs)”, este é o caso do Rio de Janeiro. “Os relatos não são bons. Os profissionais dos postos não são preparados socialmente e nem profissionalmente. Clínicos gerais não entendem as especificidades do HIV por não serem infectologistas”, explica.
Heliana também conta que acontecem faltas de abastecimento de medicamentos, insumos como preservativos (principalmente em cidades do interior) e outras demandas, que os movimentos sociais tentam sanar. “Se falta assistência, acontece a desistência do tratamento. Assim as pessoas adoecem e geram até um gasto muito maior para o governo”.
Nos esforços para garantir esses direitos está a ONG Pela Vidda, há 29 anos atuando no Rio de Janeiro. Maria Eduarda explica que entender a necessidade dessas políticas públicas, bem como a dificuldade em bater a meta dos 90/90/90, se dá pela sensibilidade do tema. “Para se fazer um tratamento correto contra o HIV e a Aids é preciso ser muito persistente. Às vezes não tem remédio, a pessoa é destratada, o vale social não vem com as passagens de ônibus corretas. Vários pequenos problemas burocráticos e constrangedores”, explica.
A advogada ainda ressalta outra determinante dificuldade do tratamento, os efeitos colaterais dos remédios antirretrovirais. “Os efeitos dos remédios são fortes. É preciso testes até encontrar um que seu organismo se adapte. Alguém que faz o tratamento precisa de, no mínimo, uma alimentação balanceada. Pessoas mais vulneráveis, carentes de recursos, de possibilidades, não têm estrutura para se tratar”, aponta. Segundo a militante, para uma boa adesão ao tratamento, é preciso que a pessoa esteja com a autoestima recuperada, acolhimento adequado e direitos básicos garantidos.
“Acredito que as pessoas e o governo têm a falsa sensação de que o HIV está controlado, como se o medicamento gratuito fosse tudo. Mas existem outras questões, como as sociais, o preconceito e o estigma. Não existe no sistema de saúde do Rio acolhimento psicológico eficiente para esse grupo”, acusa. “O estado quer só controlar o HIV, não cuidar das pessoas. Suprimiu o vírus e saiu no relatório como indetectável, está ótimo! O resto não precisa. Mas o resto é tudo isso!”
Quem concorda é Carué Contreias. “A adesão tem que fazer sentido para a vida da pessoa. Um cidadão que se sente discriminado, isolado e refém da situação, não consegue se empoderar e tende a se deprimir, o que afeta o autocuidado”, diz. Carué ainda acrescenta que a sorofobia é determinante nos bons resultados do tratamento, mas outras camadas de preconceito também dificultam o processo. “Para pessoas trans, por exemplo, a transfobia é ainda mais forte e determinante para que consigam se tratar. Bem como as pessoas negras, que enfrentam racismo diário. Tudo interfere na qualidade de vida e nos resultados do tratamento do HIV”, pontua.
A primeira etapa é prevenir
O aumento do número de infectadas e infectados pelo vírus, em especial na população mais jovem, é um alerta vermelho ao movimento de combate à epidemia do HIV. Atualmente, o Ministério da Saúde trabalha no Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs, do HIV/Aids e das Hepatites Virais com o conceito de Prevenção Combinada. A tática inclui intervenções biomédicas (distribuição de preservativos, PrEP, PEP e TTP); intervenções comportamentais (com campanhas de conscientização, como incentivo de uso da camisinha) e intervenções estruturais (combate a LGBTfobia, racismo, sexismo e promoção dos direitos humanos).

Para Maria Eduarda, uma das causas do aumento do vírus entre jovens é a falta de comunicação com essa população. “Acredito que isso se dá porque não conseguimos falar de prevenção na linguagem do jovem. É por isso que sempre estimulo e incentivo jovens nos espaços de decisão e criação de políticas. Para que eles possam desenvolver políticas, atraentes, que toque outros jovens, que consigam se comunicar”, dispara Maria Eduarda.
A presidenta do Pela Vidda vê na educação sexual um caminho para a prevenção, mas as barreiras conservadoras são um problema: “Acredito que se não fôssemos tão hipócritas e pudéssemos falar de sexo, com oficinas sobre sexo seguro a partir dos 14 anos nas escolas, teríamos esse número bem menor. Isso existia antes, mas entramos num retrocesso tão grande que não se debate mais sexualidade em espaço público”, diz. Para ela, adolescentes não conversam sobre sexo em casa e são privadas e privados de tirarem dúvidas nas escolas, onde deveriam aprender. “A epidemia cresceu no jovem por conta da estrutura conservadora. O preconceito não é sobre o vírus, é sobre o sexo. É por ser sexual que passamos por todo esse transtorno”, critica.
Carué, assumidamente pessoa vivendo com HIV, reitera a importância do debate. “É satisfatório falar que eu também vivo com HIV para mães vivendo. Normaliza a questão”, desabafa. “Ter HIV não é desvio de moral, não é uma punição. O vírus precisa do sexo para se transmitir e sexo todo mundo faz. Isso acontece! Ainda mais com populações que têm menos direitos e menor capacidade de se defender”, pontua. O médico ainda defende que seria transformador que mais profissionais da saúde pudessem estar fora do armário, “mas a pressão social ainda não permite, infelizmente.”

Um grande retrocesso
No ano de 2003, o Brasil era um exemplo internacional de combate ao HIV/Aids. O então Programa Nacional de DST/Aids, do Ministério da Saúde, foi homenageado em Washington, EUA, e recebeu da Fundação Bill e Melinda Gates uma doação de US$ 1 milhão como prêmio. No mesmo ano, o coordenador do programa, Paulo Teixeira, foi convocado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para formular a política da entidade contra a Aids nos moldes do sistema brasileiro, que se mostrava um dos mais eficientes do mundo.
Enquanto a OMS e o Banco Mundial focaram na prevenção do vírus, o Brasil se preocupou com o tratamento, se tornando o primeiro país com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) a investir em massa nos antirretrovirais e tendo distribuição gratuita em todo o país. No entanto, a geração nascida nos anos 1990 já é mais afetada pelo HIV do que jovens dos anos 1960 e 1970, grupo que mais havia contribuído para o número de casos no Brasil.
A explicação se dá pela falta de investimento no programa de combate ao vírus. O mesmo foi formalmente integrado, em 2009, ao Ministério da Saúde se tornando um departamento da Secretaria de Vigilância em Saúde. Outra mudança que afetou a autonomia do Programa foi acerca do financiamento. O Banco Mundial repassava os recursos a estados e municípios por convênios. A sociedade civil e ONGs inscreviam projetos em concursos e recebiam parte do dinheiro. Em 2003, os investimentos passaram a ser repassados para estados e municípios, que assumiram as ações de repasses a projetos civis e ONGs.
O problema que começou 15 anos atrás ainda é atual. Os estados não repassam a quantia necessária para o programa por julgarem que outras áreas da saúde merecem maior prioridade ou por não concordarem em destinar recursos a população de trabalhadores do sexo ou homens que fazem sexo com homens.
As chances de o Brasil voltar a ser referência ou mesmo bater a meta 90/90/90, proposta pela Unaids, até 2020 se mostram escassas. A Emenda Constitucional 95 (EC 95), sancionada pelo Governo Temer em 2016, congela os investimentos públicos por 20 anos comprometendo diretamente saúde, educação e assistência social. O próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, é combatente ao repasse de dinheiro público para ONGs, e defende que o investimento da União em saúde é mais do que o suficiente. Bolsonaro também é defensor do Projeto Escola Sem Partido, que proíbe o debate sobre gênero, sexo e sexualidade nas escolas públicas do país e não apresentou nenhuma proposta em seu plano de governo para populações em situação de vulnerabilidade.
********************
*Os nomes foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos.
Esta reportagem foi desenvolvida entre outubro e novembro de 2018, durante o projeto “Jornalismo de Dados para superar preconceitos” do data_labe que conta ainda com um episódio do podcast data_lábia.
Nesta reportagem, você pode perceber que priorizamos a linguagem neutra e feminina. Gramaticalmente, algumas alterações não são aceitas, mas entendemos a linguagem como algo poderoso na manutenção ou diminuição dos estigmas sociais. Dessa maneira, pretendemos fazer o mesmo nos próximos textos.
fontes:
http://portalsinan.saude.gov.br/
http://www.pelavidda.org.br/site/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9313.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/38/inss-pres/2010/45_1.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12984.htm