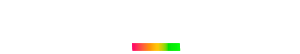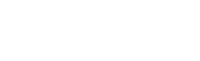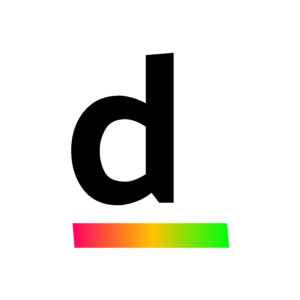SUSPEITOS SEM FUNDAMENTO
Sem protocolos objetivos para realizar abordagens, polícias miram em pessoas negras: A cada dez pessoas paradas, oito são negras.
Reportagem: Edilana Damasceno
Edição: Elena Wesley
Dados: Paulo Mota
Visualizações: Nicolas Noel, Ju Messias e Kézia Antero
Desde a infância Alessandro Conceição ouvia as recomendações da mãe sobre como se comportar numa abordagem policial. “A regra dela era: ‘Quando eles [agentes] falam, não olha no olho que você fica marcado’”. Foi assim que ele e os dois irmãos mais novos se habituaram a circular pelas ruas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas em fevereiro de 2017, quando estava a caminho da comemoração da defesa do mestrado, por alguns segundos, Alessandro esqueceu uma das regrinhas básicas da mãe. Ao perceber que perderia o ônibus, correu na expectativa de alcançá-lo. Teria chegado a tempo se não tivesse sido parado por um policial.
Hoje, aos 39 anos, o morador do Morro do Viradouro, em Niterói, calcula que tenha sido abordado pelo menos 30 vezes e tem consciência que práticas banais do dia a dia, como pegar um ônibus, visitar um centro cultural ou ir ao trabalho não podem ser exercidas de forma igualitária por todas as pessoas. Para pessoas negras, atividades rotineiras podem ser consideradas motivo para parecer suspeito. “Minha mãe dizia: ‘cuidado para não ficar marcado’, e eu digo: Já estamos marcados!”.
Em 2021, Alessandro compartilhou suas experiências em um formulário online desenvolvido pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), uma instituição de advogados criminalistas que atuam contra violações de direitos no judiciário brasileiro, em parceria com o data_labe, uma organização da sociedade civil que trabalha com análise e geração de dados. O objetivo da pesquisa era obter dados sobre as experiências dos cidadãos com abordagens policiais, por conta da escassez de dados públicos sobre o tema. Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública disponibiliza todo trimestre a quantidade de abordagens realizadas pelas polícias militar e civil, mas sem detalhes sobre a dinâmica do procedimento nem o perfil das pessoas abordadas, como as variáveis raça ou gênero. Já no Rio de Janeiro é o Instituto de Segurança Pública que produz as análises de dados relativos ao tema, mas o órgão não fornece quaisquer dados sobre abordagens policiais.
Com a participação de 1018 respondentes dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, a pesquisa “Por que Eu?”, lançada em julho de 2022, identificou que a cada dez pessoas abordadas pela polícia, oito são negras.
A cada 10 pessoas abordadas pela polícia, 8 são negras.
Indiginas 0.8% e amarelos 0.3%










Entre os participantes do estudo que, assim como Alessandro, já passaram por mais de dez abordagens, o índice é duas vezes maior entre pessoas negras do que entre pessoas brancas (19,1% e 8,5%, respectivamente).
Legislação dá margem para racismo nas abordagens
Há quase 20 anos a advogada criminalista Priscila Pamela dos Santos acompanha, no Judiciário, casos que indicam violação de direitos humanos. Com a experiência como diretora executiva do IDDD e presidente da Comissão Política Criminal e Penitenciária da OAB-SP, a especialista explica que de acordo com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, uma busca pessoal só pode ocorrer sem mandado judicial caso haja a fundada suspeita de que alguém esteja portando arma de fogo, objetos ilícitos, entre outras irregularidades. Contudo, na prática, o conceito deixa a cargo do agente de segurança a escolha de quem deve ou não ser parado. “Quando a legislação diz fundada suspeita, ela não estabelece um protocolo que justifique o que é suspeito. Assim, ela deixa a definição subjetiva e dá ao policial a liberdade de abordar quem ele quiser. E essa escolha será influenciada pelos estereótipos racistas e preconceitos que estão presentes na sociedade e em tantas outras instituições. O policial vai abordar quem o subconsciente coletivo define como inimigo, que é a pessoa negra”.
Alessandro conhece bem tal percepção. “Chamam de ‘elemento’, de ‘neguinho’. Às vezes, depois que veem a carteirinha da faculdade, passo a ser ‘cidadão’”. Assim como ele, 46% das pessoas negras participantes da pesquisa “Por Que Eu?”relataram que sua raça ou cor foi mencionada durante o “enquadro”. Apenas 7% das pessoas brancas que responderam o formulário passaram pela mesma experiência. Priscila Pamela acrescenta que a disparidade entre as duas raças exemplifica o conceito de perfilamento racial, que é quando decisões são tomadas com base em critérios como raça, cor ou origem ao invés de evidências objetivas. “O critério é quem o policial quer abordar. E quem o policial quer abordar? Quem ele aprendeu que é inimigo! Quem é o inimigo? É esse que está no subconsciente coletivo como perigoso, que é a pessoa negra”.

Em resposta à reportagem, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou “que nos protocolos que norteiam as ações de abordagem da Corporação, não há qualquer distinção de contexto social – raça, credo religioso, orientação sexual, entre outros”. A assessoria de imprensa acrescentou que “orgulha-se de ter sido a primeira instituição pública a incorporar negros em suas fileiras, mesmo antes da abolição da escravidão” e ressalta que “40% dos policiais militares são afrodescendentes”.
O especialista em racismo e segurança pública, Pedro Paulo dos Santos, afirma que compreender como o racismo é um fator relevante na dinâmica da segurança pública tem sido um dos principais desafios do tema. O pesquisador fez parte do estudo “Elemento Suspeito 2: Abordagem Policial, Racismo e Discriminação na cidade do Rio de Janeiro”, publicado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) em fevereiro deste ano, quase duas décadas depois da primeira versão da pesquisa. “O racismo funciona de muitas formas, então ele se torna um inimigo muito difícil de contrapor. Na abordagem policial, por exemplo, você vai tentar apontar o racismo, e a polícia vai contrapor com um ponto de vista técnico”, explica.
Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo destacou algumas iniciativas adotadas para mitigar o racismo, como a adoção da disciplina Direitos Humanos e Ações Afirmativas, a criação da Divisão de Cidadania e Dignidade Humana, a revisão da doutrina institucional, a publicação do novo Manual de Direitos Humanos e Cidadania e a participação acadêmica da PM junto às universidades, desde 2020, no grupo de trabalho “Movimento Anti Racista – segurança do futuro”. “Os protocolos operacionais da Polícia Militar não levam em consideração estereótipos raciais, de gênero, classe social, idade ou religião. A PM atualiza esses protocolos constantemente e aprimora sua estrutura organizacional”, afirma trecho da nota. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, “desde então, foram revisados todos os procedimentos operacionais de abordagem e foi incluída a disciplina Africanidades no curso de formação dos oficiais da PM”. Na Polícia Civil, a secretaria informou que o tema do racismo estrutural tem sido trabalhado em disciplinas ligadas a Direitos Humanos.
Sem protocolo e ineficientes, abordagens desperdiçam dinheiro público
Ainda que o fator racial seja uma variável relevante para compreender o cenário das abordagens policiais no Brasil, mesmo sem ele é possível identificar a falta de protocolo na abordagem de pessoas mencionada pelos especialistas. Para 36% dos participantes da pesquisa “Por Que Eu?”, a polícia não informou o motivo da abordagem, e a 36,8% informou que a busca pessoal seria parte da rotina de trabalho.
Os relatos ganham respaldo nos números da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que registrou, em 2020, quase 12 milhões de revistas pessoais realizadas por agentes das polícias civil e militar e registradas pela em 2020. Desse total, apenas 0,9% resultaram em prisões em flagrante.
Além da baixa eficácia como estratégia de combate à criminalidade, a falta de evidências claras para abordar um indivíduo pode provocar ainda desperdício de tempo e recursos públicos. Segundo a pesquisa “Por Que Eu?”, a duração da abordagem mais informada pelos respondentes era de 5 a 15 minutos. Se calcularmos com base nos dados de São Paulo em 2020, podemos afirmar que a polícia investiu de um milhão a três milhões de horas em buscas pessoais. Para suprir essa demanda, seria necessário um grupo de pelo menos 496 policiais com carga horária de 42 horas semanais e com dedicação exclusiva à realização de abordagens.

Muito mais que um problema das polícias
Embora os policiais sejam o ponto de contato do Estado com os cidadãos no que se refere às abordagens policiais, outros braços do Estado compõem o enredo da violência e da ineficiência nesta política de segurança pública. São eles o Ministério Público e o Judiciário, que têm a função de fiscalizar os órgãos de segurança e garantir que os processos ocorram em conformidade com a lei. Em 2019, o IDDD analisou quase três mil audiências de custódia em nove estados brasileiros e verificou que, em 55,6% dos casos, a única versão registrada era a dos policiais que efetuaram a detenção. Em inquéritos com acusações de tráfico de drogas, o índice chegava a 90%.
Priscila Pamela dos Santos destaca que fatores como a memória, a repetição de atividades e o próprio racismo estrutural podem fazer da alta confiabilidade do Ministério Público e do Judiciário no testemunho policial uma armadilha à promoção da justiça aos cidadãos, visto que permitem o risco de prisão de pessoas que nem deveriam ter sido abordadas. “Conforme a gente vai se distanciando de um fato, nossa memória vai se deteriorando por diversos motivos e por diversas influências. Para o policial, que repete todos os dias situações semelhantes de prisões entre outras coisas, a memória exigida quatro, cinco meses depois do fato para um depoimento, está mais deteriorada do que no ato da prisão”, explica.
A advogada ressalta a importância de promotores e juízes não aceitarem prosseguir com casos nos quais os agentes de segurança não apresentem evidências técnicas que tenham levado à abordagem, como ocorreu num caso julgado em abril deste ano pelo Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade o STJ concedeu habeas corpus e trancou uma ação penal por tráfico de drogas, por considerar que não houve fundada suspeita que motivasse a abordagem policial e o processo movido pelo Ministério Público da Bahia.
A decisão considerou que “a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida”.
Em caso semelhante a este a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a Argentina por conta de duas prisões realizadas em 1992 e em 1998. Em ambos os casos, a polícia não apresentou evidências técnicas para a abordagem. Ao contrário, os agentes envolvidos alegaram o “estado de nervosismo” dos acusados e mencionaram que suas vestimentas eram suspeitas. Segundo Priscila, a decisão abre precedente para que o Brasil também sofra a mesma sanção.
Em um país onde a Constituição Federal declara que “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” – instituindo, assim, a presunção da inocência, Alessandro sente e experimenta em seu dia a dia o contrário: para determinados grupos sociais vale a presunção da suspeita. “Não importa o título, a graduação ou a profissão que você tenha. A sua cor pode te fazer suspeito”.