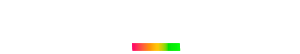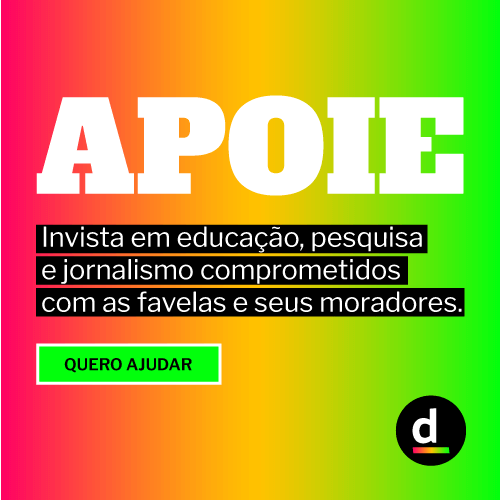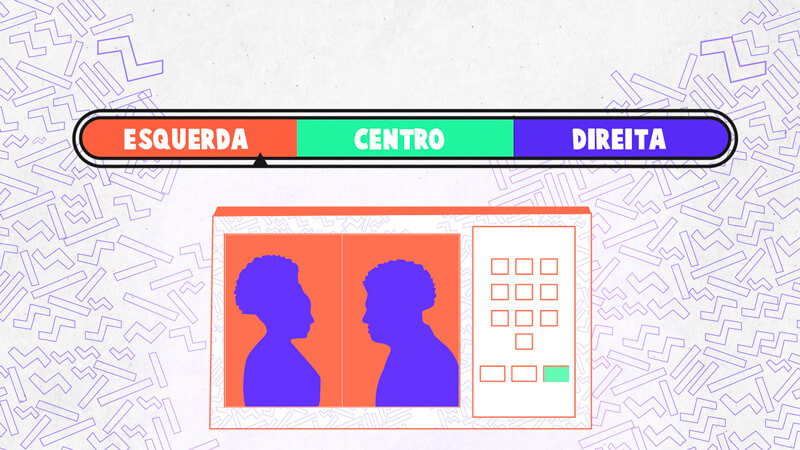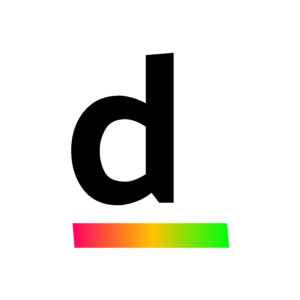reportagem:
Elena Wesley
arte e colagens
Kareen Sayuri
edição
Fred Di Giacomo
“Eu cresceria e ganharia mais se continuasse expondo meus processos [de saúde mental] na hora em que acontecem, mas preferi separar a Luci da Lucilley, porque aprendi na terapia a escolher quando me expor. O influenciador precisa ter responsabilidade com tudo o que fala, mas não posso ser só isso. Existe a Lucilley que é amiga, filha, namorada. Do contrário, eu não me humanizo, viro uma máquina de produzir. Acho que uma das coisas mais bonitas que tem a ver com meu trabalho é me humanizar para que as pessoas se humanizem e façam o mesmo comigo. Não se costuma humanizar mulheres negras. Somos super-heroínas, damos conta de tudo”.
Quando decidiu montar um canal no YouTube em 2014 – período em que ainda conciliava vários empregos com as aulas do ensino médio, Luci Gonçalves nem imaginava que a criação de conteúdo deixaria de ser um hobby para se tornar uma profissão. Das dicas sobre transição capilar e cuidados com o cabelo crespo, a influenciadora do subúrbio carioca expandiu as temáticas dos vídeos e passou a falar também sobre saúde mental.
Impulsionada por sua experiência pessoal com diagnósticos de ansiedade e depressão, Luci se tornou uma referência para que outras pessoas jovens, negras, LGBTQI+ e periféricas como ela se aproximassem do assunto. Contudo, num mercado imediatista, de grande exposição e no qual a linha entre a figura pública e a vida pessoal é tão tênue, é preciso encontrar estratégias que equilibrem a relação frequência de posts versus autocuidado. Há um ano e meio, Luci decidiu separar a vida pessoal da profissional com o objetivo de proteger sua saúde mental numa terra que parece não ter lei: a internet.
Abordar o tema não estava nos planos, mas uma crise de depressão pouco depois do lançamento do canal a levou a contar ao público o motivo pelo qual sumia das redes. “Eu tava sem grana pro psiquiatra, pra terapia, não achei atendimento de graça e não tinha tempo pra fazer. Também não havia pessoas falando sobre isso nas redes. Trazer questões de saúde mental foi uma necessidade de ser sincera e falar sobre meus limites. Eu não queria que achassem que eu não estava levando a sério. Rola muito isso, de pessoas com depressão não conseguirem finalizar um projeto e sentirem que são um lixo ou que é preguiça. E não é isso.”
Longe do conceito de blogueira good vibes – aquelas que esbanjam felicidade 24 horas por dia ou defendem a gratidão até ao coronavírus –, Luci prefere se inspirar no que a escritora Conceição Evaristo chama de “escrevivência”, isto é, quando mulheres negras contam sua história a partir da sua própria perspectiva. Partindo daí, a influencer de 22 anos fala abertamente sobre seus dias bons e ruins e compartilha os problemas que a afligem como uma mulher negra, favelada e bissexual.
Mas Luci não anda sozinha. Quem endossa a frente pela saúde mental das pessoas negras é a comunicadora Gabi Oliveira, 24, que, após começar seu acompanhamento psicológico, percebeu como o racismo sofrido influenciava seus medos e atitudes. “Vi mudanças significativas no meu modo de ver a vida, de me entender. O que mais me estimulou a falar sobre saúde mental nas minhas redes foi porque meu público é majoritariamente formado por mulheres negras. E essa conversa está muitas vezes afastada da população negra”.
Além do YouTube, onde soma 565 mil inscritos, Gabi aborda o tema e seus desdobramentos no podcast Afetos, que promove com Karina Vieira, no qual conversam sobre temas como auto sabotagem, solidão, perdão, ascensão social e educação financeira, entre outros.
Saúde mental não é frescura de branco playboy
Dados do Ministério da Saúde confirmam o quanto promover informação sobre saúde mental para estes grupos é relevante. O relatório “Óbitos por suicídio entre adolescentes e jovens negros 2012 a 2016” aponta que, a cada dez mortes, aproximadamente seis ocorreram com negros e quatro com brancos. Em 2016, negros com idade entre 10 e 29 anos correram 45% mais risco de suicídio do que brancos. Entre os fatores que aumentam a vulnerabilidade estão homofobia, violência física, uso abusivo de drogas, além dos sentimentos de não pertencimento, exclusão e não aceitação de si mesmo ou por parte de pessoas próximas.
É esse o público que a psicóloga Shaiene Balbino assiste num projeto de atendimento acessível junto a mulheres negras em Niterói, município da região metropolitana do Rio. Embora o Conselho Federal de Psicologia disponha de normas e referências para a atuação dos profissionais frente à discriminação racial, diversos fatores contribuem para que esse público seja minoria nos consultórios. “Aquelas que vinham, em sua maioria, traziam a sensação de não pertencimento, alguma experiência ruim por questão financeira ou pelo próprio racismo estrutural [em consultas anteriores], ou ainda a ignorância da necessidade de cuidar de sua saúde mental”.
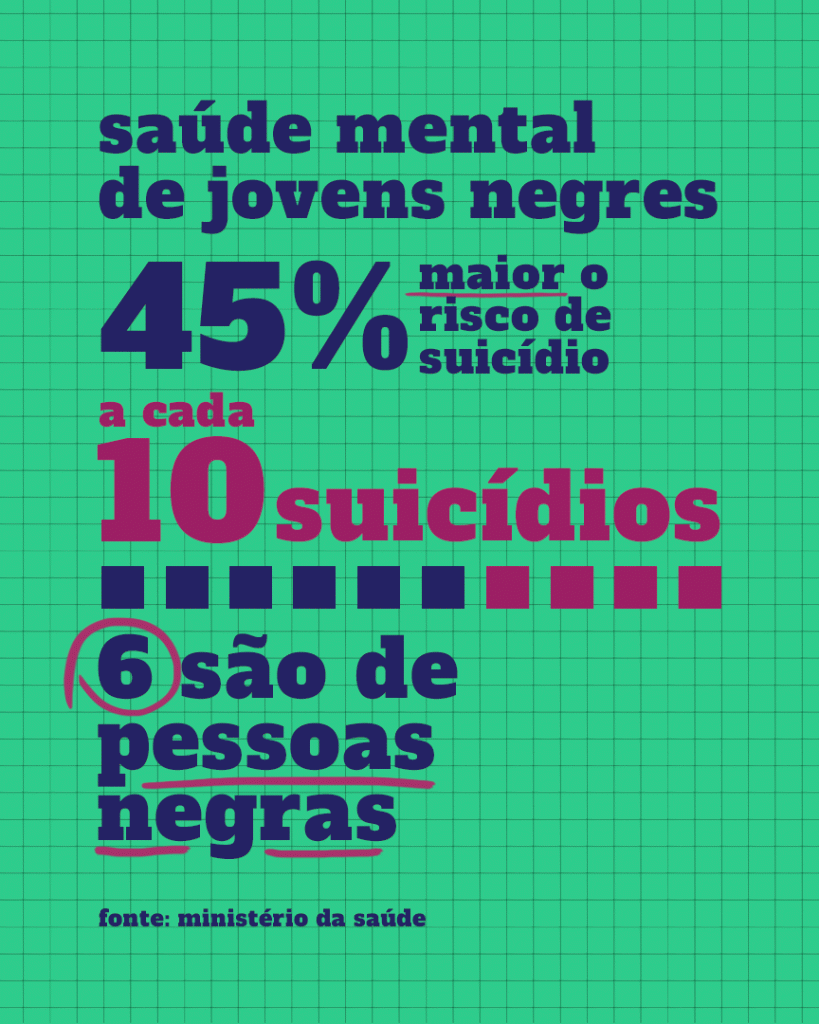
Com um público majoritário na faixa de 18 a 26 anos, Shaiene destaca o quanto os jovens têm se espelhado em influenciadores que se parecem com eles, na busca por entenderem sua identidade, questões de gênero, raça e sexualidade: “No processo terapêutico, é importante ter referências. [A juventude] é um período de autoafirmação, e o olhar do outro influencia muito, seja de maneira positiva ou não. Há três anos, não existia o acesso a esses debates como hoje. Muitos percebem que existem outras pessoas que passam por isso, que muitas vezes explicam o que eles estão sentindo”.
Ver que não estava sozinho foi fundamental para que o estudante de jornalismo Lucas Adeniran assumisse sua sexualidade aos 21 anos, no que define como “a melhor decisão de sua vida”. No canal Guardei no Armário, comandado pelo publicitário Samuel Gomes, Lucas encontrou forças e uma referência. Hoje, aos 24, é ativista gay e cristão do Movimento Negro Evangélico, na luta por ressignificar o espaço religioso como lugar de refúgio e não de hostilidade: “Toda vez que eu sentia medo por ser gay, eu assistia um vídeo do Samuel para me reconfortar. A representatividade contou muito, pois ver uma bicha preta tão inteligente como ele foi incrível pra mim, já que, na sociedade em que vivemos, ser gay e preto é uma sentença de morte. Somos vulneráveis, até mesmo nos movimentos negros e nas comunidades LGBTQI+, mas a gente segue resistindo e se reinventando”.
Desde 2015, o Guardei no Armário reúne narrativas plurais de aceitação e empoderamento. A vontade de ajudar outros, ouvindo e compartilhando histórias, culminou em um registro potente sobre dores e superação de conflitos, que conta atualmente com mais de 37 mil inscritos. “Imagina você crescer achando que é um ET e que ninguém mais é como você? Era assim que eu me sentia. Depois de alguns anos fui entender melhor o quanto falar sobre nossos processos de aceitação era revolucionário nesse sentido de saúde mental. Estamos falando do país que mais mata LGBTQI+ no mundo, o que mostra o porquê contar essas histórias é tão importante”, enfatiza Samuel Gomes, 32. Ele é autor do livro Guardei no Armário, publicado em 2016, no qual relata a vivência como um jovem negro, gay, ex-evangélico criado na Zona Sul de São Paulo.
Durante a pandemia do novo coronavírus, o escritor tem se dedicado a produzir vídeos com dicas que amenizem conflitos e inseguranças intensificados pelo aumento do convívio em casa, um ambiente muitas vezes hostil para pessoas LGBTQI+. Embora não haja dados oficiais do governo sobre aumento de violência doméstica com este recorte, uma pesquisa do coletivo #VoteLGBT em parceria com especialistas da UFMG e da Unicamp, apontou que 10% dos dez mil entrevistados sinalizou problemas no convívio familiar como um dos fatores negativos para encarar o isolamento social. Por conta disso, no Guardei no Armário, Samuel compartilha dicas para lidar com comentários preconceituosos de familiares ou imposição de fé religiosa.
Quem cuida dos cuidadores?
Criar conteúdo em um período como esse não é tarefa simples, afinal, como aconselhar e distrair seguidores quando nós também precisamos de ajuda para entender e enfrentar o problema? Esse é o questionamento que Luci, Gabi e Samuel fizeram. Para além da preocupação com a saúde pessoal e de pessoas próximas, todo o planejamento de receitas e despesas teve que ser refeito diante de viagens, eventos e contratos cancelados. E quem tem menos seguidores sentiu mais os efeitos econômicos da pandemia. Um estudo da agência britânica de desenvolvimento digital Attain revelou que 72% dos blogueiros com menos de 100 mil seguidores teve queda de rendimento, ao passo que, entre aqueles que somam mais de três milhões, 55% estão ganhando menos. Samuel vive esses números na pele. O designer gráfico ainda não tem nas redes sociais sua principal fonte de renda e se recupera de um período turbulento que incluiu sua demissão da agência em que trabalhava e luto pela perda da avó, uma das mais de 65 mil vítimas da covid-19 no Brasil.
O diretor de tendências da agência de pesquisa de mercado Box1824, Henrique Diaz, explica o quanto a visão das marcas em relação ao mercado de influência ainda é limitada. Segundo o especialista, predomina a visão antiquada de investir em grandes canais – como TV, revista ou influenciadores na casa dos milhões – em detrimento da pulverização de ações e consequente ampliação da audiência: “Os estudos indicam que é melhor investir em 500 menores do que em cinco grandes. O micro influenciador tem um poder de conversão muito maior, porque é mais comprometido com a causa dele. Ele não promove apenas uma apresentação do tema ou reflexão, mas aciona o seguidor a mudar sua forma de pensar e agir. É uma influência que se desdobra em conversão”.

São os influenciadores e um público cada vez mais engajado que têm forçado as marcas a se envolverem com a saúde mental e pautas sociais. Exemplo disso é a Nike, que encarou os haters no combate ao racismo com o patrocínio de atletas ativistas como a tenista Serena Williams e o jogador de futebol americano Colin Kaepernick, ou ainda o Burger King, historicamente a favor dos direitos LGBTQI+ em sua comunicação e política de empregabilidade.
Entretanto, Henrique ainda não vê um posicionamento concreto das marcas, e, sim, ações pontuais, e acredita que a pandemia dará mais um empurrão para que se repense novos nomes e espaços: “As ações na pandemia ficaram restritas à mudança de tom, a um apelo mais lúdico ou a mensagens positivas. Quem tem sido responsável por esse debate são os criadores de conteúdo. São poucas as marcas que de fato se posicionam. Sem representatividade nas empresas não há como enxergar e priorizar isso e implantar em suas estratégias. É preciso lideranças mais heterogêneas, não apenas homens brancos e, no máximo, mulheres brancas.”.
Enquanto as marcas seguem brancas, os influencers negros têm pressa. E o “faça você mesmo” faz brotar novas revoluções. É o caso da Digital Favela, uma plataforma criada pela Favela Holding que vai treinar micro influenciadores do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e conectá-los às empresas. Facebook, Picpay e Uber já aderiram à ideia, cientes de que os moradores das ‘quebradas’ brasileiras movimentam R$119,8 bilhões por ano, segundo dados do DataFavela e da Locomotiva. É um valor maior do que o PIB de países como Jamaica e Bósnia e Herzegovina. Se parte desse dinheiro retornar a quem também é pobre, preto e da favela, será uma pequena revolução.
Nosso spa virtual para sua saúde mental
1) Luci Gonçalves: Luta antirracista – como começar
2) Guardei no armário: Como viver na quarentena com uma família que não me aceita?
3) Afetos: A tal síndrome da impostora
Esta reportagem foi produzida em parceria com a Elástica e você também pode ler ela lá!